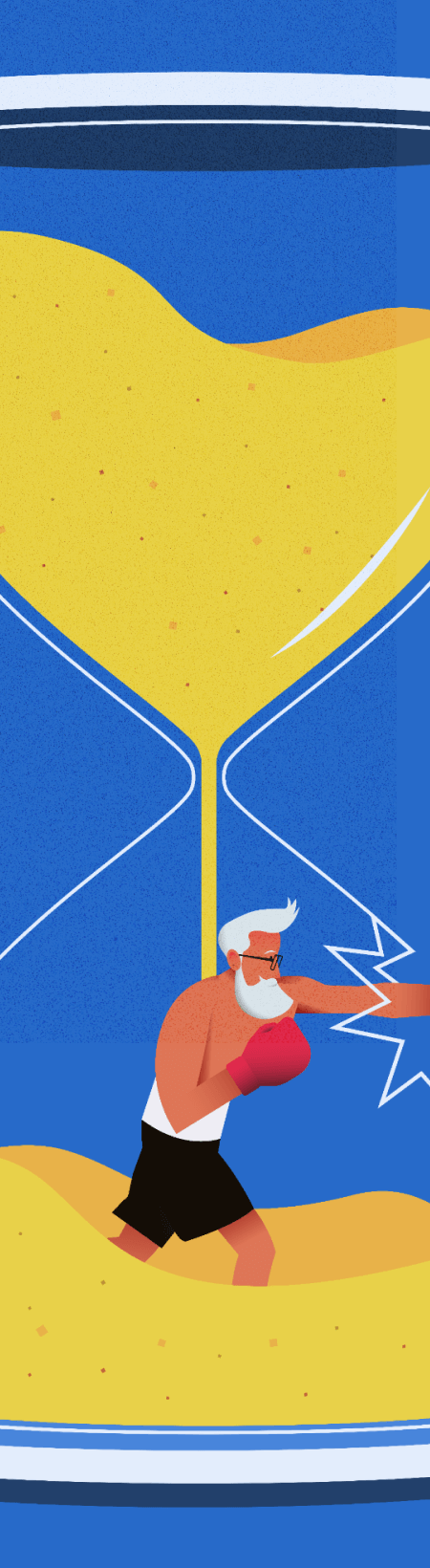ocar um instrumento é muito mais do que aprender notas. É descobrir-se, ganhar paciência, criar laços e até curar feridas invisíveis. Na era das apps e dos tutoriais rápidos, a música continua a lembrar-nos que algumas coisas só se aprendem devagar. Mas são para sempre.


Silas Ferreira tinha 6 anos quando o pai o sentou à frente de um piano. “Não foi amor ao primeiro toque, rejeitei o instrumento rapidamente”, recorda, num dos raros intervalos entre concertos. Nessa altura, frequentou aulas durante apenas alguns meses. Nos anos seguintes, aproveitando o facto de ter um piano em casa, Silas foi “tocando algumas músicas” em família. “Sabia identificar as notas e percebia como o instrumento funcionava. Mas só voltei a estudar piano há uns 5 ou 6 anos”, confessa.
Pelo caminho, o músico, hoje com 40 anos, construiu uma carreira como teclista dos Pontos Negros, banda de Queluz que abriu as portas ao “Novo Rock Português”, e também ao lado de Samuel Úria. Ainda assim, o instrumento que mais o define é o oboé, que começou a estudar aos 11 anos. “Descobri o oboé através de Pedro e o Lobo [obra musical composta por Serguei Prokofiev em 1936]. Adorei o som logo ao primeiro sopro e inscrevi-me no conservatório regional de música, em Santo Tirso”, conta.
A história de Silas Ferreira é, ao mesmo tempo, comum e singular. Por um lado, confirma a ideia de que é difícil motivar uma criança de apenas 6 anos a aprender um instrumento. Por outro, mostra que a resiliência – dos pais, professores ou da própria criança – pode dar frutos inesperados. No caso de Silas, hoje teclista profissional, foi o oboé que lhe devolveu a música. “Estudei muito mais oboé do que aquilo que toco em palco”, admite.
PARCEIROS MONTEPIO
Aprender música é caro? Obtenha descontos para si ou para os seus filhos no Conservatório de Música de Sintra.
Mais piano, menos guitarra
Em 2025, ainda queremos aprender a tocar instrumentos? Numa era em que temos à disposição todas as ferramentas que quisermos – vídeos tutoriais, apps inovadoras, pautas de músicas gratuitas –, ainda há espaço para a aprendizagem lenta, paciente e exigente de um instrumento musical?
“Os jovens continuam motivados para aprender a tocar”, garante Catarina Coelho, membro da direção do Conservatório de Música de Sintra, parceiro do Montepio Associação Mutualista. “Naturalmente, nem todas as crianças querem seguir esse caminho, até porque a música exige tempo, estudo em casa e disciplina, práticas que não são fáceis nos dias de hoje. Mas falta de procura não temos.”
Dos 538 alunos inscritos no Conservatório, 365 estão a aprender um instrumento, seja no regime livre, seja no oficial. O piano, com 117 alunos, é o instrumento mais popular, seguido da guitarra e do violino. “A guitarra já teve o seu tempo áureo”, graceja Catarina Coelho. O piano, por outro lado, continua a ser o preferido dos mais jovens. “Destaca-se muito em relação aos outros instrumentos, mas já começamos a ter mais alunos de violoncelo e saxofone”, acrescenta a responsável, que também se iniciou ali no piano e clarinete e hoje acumula funções de direção com a área de comunicação da escola.
Aprender um instrumento, admite, é um caminho difícil. “O início é sofrido, porque pede prática diária, dedicação e, fruto dos tempos, as crianças têm hoje menos paciência”, explica. O prazer de tocar só chega mais tarde, como recompensa da persistência. Muitos alunos procuram em casa os acordes das músicas que gostam e levam-nos para a aula. “O professor ajuda, há essa colaboração, e a escola recebe esse interesse com gosto”, refere Catarina, sublinhando a adaptação da instituição aos novos tempos.
“Todos os instrumentos têm uma técnica e uma teoria que não são instintivas. É antinatural e implica a adaptação física: os calos, outra respiração. Às vezes até pequenas lesões, porque precisamos de transformar o corpo para tocar”
Aprender sozinho vale a pena?
Há quem diga que a tecnologia afasta as crianças do instrumento, mas a verdade é que nunca houve tantas formas de aprender música como hoje. Das mais tradicionais – como escolas de música, conservatórios, bandas filarmónicas, aulas particulares – às opções para autodidatas: apps e plataformas digitais como Yousician, Simply Piano, Flowkey, Fender Play.
Apesar desta explosão de ferramentas digitais, em Portugal não existem dados concretos sobre quantas pessoas aprendem a tocar instrumentos. “No meio académico, temos a perceção de que muitos alunos acabam por desistir por volta do 5.º grau, o equivalente ao 9.º ano”, explica Ana Telles, vice-reitora da Universidade de Évora e professora catedrática no Departamento de Música.
Pianista de formação, a professora acredita que esta “presumível” diminuição do número de estudantes pode estar ligada a vários fatores: desde o modo como as crianças ocupam os tempos livres até às expectativas dos pais. “Muitos alunos cumprem apenas a vontade dos pais, que encaram o ensino artístico como mais uma atividade extracurricular. Mas a música não funciona como um ATL. Exige esforço e dedicação do estudante e da família”, sublinha.
Aprender um instrumento musical, lembra Ana Telles, pode ser lúdico, mas implica sempre empenho, disciplina e resiliência. “E isso nem sempre é bem-visto na nossa sociedade atual, que procura coisas mais leves e descontraídas.”
Com a pandemia, a procura por soluções digitais acelerou. “Para muitas famílias, deixou de fazer sentido deslocarem-se ao conservatório, esperar pela criança, organizar a rotina. Isso pode ter levado a uma maior adesão às ferramentas digitais e a um certo fechamento da família sobre si própria”, argumenta a professora.
Ainda assim, a pianista não descarta o valor da tecnologia: “A autoaprendizagem é fabulosa, mas chega um momento em que já não se consegue avançar sem apoio.” É aí que entra o ensino formal, seja público ou privado.

A exigência começa em casa
Se o tédio pode estimular a criatividade, como defende a psicóloga Sandi Mann, autora do livro The Science of Boredom (A Ciência do Tédio, em português), então Inês Matos pode agradecer a esse estado emocional uma das maiores descobertas da sua vida. Foi num dia mais aborrecido, aos 9 anos, que perguntou ao padrasto o que fazia com a guitarra que lhe tinha dado três anos antes. “Ensinou-me o acorde Ré e foi a única coisa que fiz nessa tarde”, recorda. “Lembro-me de a minha mãe chegar a casa e eu dizer-lhe: ‘Já consigo fazer o Ré.’”
No primeiro ano de guitarra, aprendeu e aperfeiçoou quatro acordes, suficientes para tocar músicas como All I Have To Do is Dream Dream, dos Everly Brothers. “Estava no 4.º ano e dizia aos meus amigos que já conseguia tocar essa música, mas não impressionei ninguém [risos].” Com objetivos de curto prazo, Inês superou objetivo atrás de objetivo e, um ano depois, começou a ter aulas. “Lembro-me dessa recompensa de dopamina que era conseguir tocar uma música. A curto prazo é muito gratificante.”
Depois de quatro anos na guitarra clássica Inês passou para a acústica e, aos 14 anos, começou a praticar guitarra elétrica. Dois anos depois já era professora na Academia de Guitarra, Música e Tecnologia, em Algés. Hoje, com 27 anos, continua a ensinar jovens dos 6 aos 18 anos.
“Na adolescência, a guitarra perde terreno para o telemóvel. Vejo os meus alunos de 13, 14 anos colados ao TikTok, mas insisto que se esforcem um pouco mais para chegarem à tal recompensa”, diz. Para Inês, a taxa de desistência não depende da idade, mas de como se ensina. “Nas minhas aulas não há rigidez. Deixo-os tocarem o que quiserem, seja Everly Brothers ou Taylor Swift. Tive um aluno de 7 anos que adorava a música do pokémon, que é dificílima. Foi incrível vê-lo dominar acordes tão complicados.”
O segredo, garante, está também no papel dos pais. “Eles têm de ser minimamente exigentes. Consigo perceber quem estudou em casa. Na música não há cábulas, não dá para enganar. Quanto mais horas tocarem, mais facilmente se apaixonam pelo instrumento.”

Inóspita até de nome
Inês Matos é um caso raro. A proficiência na guitarra levou-a à escola de jazz Luís Villas-Boas, do Hot Clube de Portugal, e ao baixo elétrico na banda Chinaskee. Em fevereiro de 2023, estreou-se a solo sob o nome Inóspita, com o álbum Porto Santo, apoiado pela Fundação GDA e pela Câmara Municipal local. O segundo álbum, E nós, Inóspita?, surgiu em setembro de 2024 e os concertos acontecem entre a docência, a composição e a descoberta de um novo território sonoro: o piano.
“Há uma parte muito terapêutica em praticar um instrumento. No primeiro minuto, é a mente que diz ao corpo o que fazer. Mas cinco minutos depois já tocamos mecanicamente. Estamos num estado meditativo, que eu adoro e que é difícil de explicar”, confessa Inês.
Para lá chegar, o caminho é duro. Silas Ferreira lembra que, mesmo “após milhares de anos a tocarmos cordofones semelhantes à guitarra”, continua a ser estranho, para quem não sabe, pegar no instrumento. “Todos os instrumentos têm uma técnica e uma teoria que não são instintivas. É antinatural e implica a adaptação física: os calos, outra respiração. Às vezes até pequenas lesões, porque precisamos de transformar o corpo para tocar”, explica.
Silas, que escolheu um dos instrumentos mais difíceis de dominar, o oboé, fala com conhecimento de causa. “É de palheta dupla e pequena. Temos de fazer uma pressão enorme para produzir som. Os dois primeiros anos são horríveis”, admite.
Apesar de ter levado o oboé a alguns temas de Samuel Úria, como o belo Segreguei-te ao Ouvido, uma das pérolas do início de carreira do cantautor de Tondela, é nos teclados que Silas mais se destaca. Para ganhar confiança na composição, recentemente recorreu a aulas privadas. “Aprendi duas peças importantes: a Gymnopédie No.2, de Erik Satie, e a versão simplificada de Christmas Time is Here, do especial de Natal do Charlie Brown, de Vince Guaraldi.”
No fundo, tocar um instrumento também é isto: um caminho sem linha de chegada, onde nunca se sabe o suficiente para deixar de aprender.
REVISTA MONTEPIO
As bandas de música são coisa do passado?
Mais do que som, uma forma de vida
Tocar um instrumento é mais do que o prazer imediato entre o gesto e o som que entra nos nossos ouvidos. É, sobretudo, uma forma de viver. “Ao estudar piano, abrem-se muitas dimensões. Tenho uma vida muito preenchida e preciso, pelo menos, de uma hora por dia ao piano. Porque é o tempo em que me ligo a mim própria”, confessa Ana Telles.
Segundo a docente, estão sempre a descobrir-se novos benefícios associados à prática de um instrumento, além da fruição musical. Estudos comprovam que os alunos que conciliam a música com os estudos gerais obtêm melhores resultados nas áreas científicas e humanísticas. “Tem a ver com o treino regular, a noção de esforço e as cadeias de motivação. Tudo isto impacta, por exemplo, na capacidade de concentração”, explica.
É claro que, entre ser autodidata e não tocar um instrumento, a primeira opção será sempre preferível. Mas Ana Telles alerta que, ao deixarmos de colocar os nossos filhos numa escola de música, podemos estar a torná-los menos preparados para lidar com alguns dos desafios de hoje, como o isolamento dos jovens.
“Tive a sorte de aprender piano e funciona como uma autoterapia. Dá-nos criatividade, liberdade, abre uma janela para o mundo. Quando não tenho tempo para estudar piano, sinto-me diferente: mais presa, menos livre e criativa”, desabafa.
Mais do que um regresso ao passado, aprender música é uma proposta de futuro. Conta-nos Catarina Coelho, por exemplo, que o aluno mais velho do Conservatório de Música de Sintra tem 78 anos e começou a tocar há 10. A escola acolhe ainda crianças encaminhadas pelos pediatras e até lançou uma disciplina de musicoterapia.
“Está provado que a prática musical atrasa os sintomas de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. E pode até ajudar a desenvolver competências em pessoas afetadas pela doença, prolongando a qualidade de vida”, acrescenta Ana Telles.
“Há um autor, Daniel J. Levitin, que fala de uma sinfonia cerebral. A música põe todo o cérebro a funcionar. É isso a que chama ‘sinfonia cerebral’: quando o cérebro usa a música para prazer, equilíbrio e relaxamento.”
Saúde, que se vai cantar o fado
“Vou dar-lhe uma má notícia: deixei de tocar. Não tinha grande aptidão e precisava de muito tempo para isso. Com 5 filhos em casa, além de ser professor universitário e médico, tornou-se impossível. Tenho pena”, diz, entre risos, o neurocirurgião Carlos Calado.
O ato de tocar instrumentos, explica, envolve quase todo o cérebro: zonas sensitivas, motoras, auditivas, musicais e até visuais, ao olhar para o instrumento e para a pauta. “Há um autor, Daniel J. Levitin, que fala de uma sinfonia cerebral. A música põe todo o cérebro a funcionar. É isso a que chama ‘sinfonia cerebral’: quando o cérebro usa a música para prazer, equilíbrio e relaxamento.”
Há cerca de uma década, Carlos Calado liderou um estudo com 180 doentes (ver caixa), durante dois anos, para descobrir a influência da música na dor aguda pós-operatória. Essa investigação, que viria a dar origem à sua tese de doutoramento em Psicologia (2015, Universidade Autónoma de Lisboa), é mais uma prova da ligação entre a música e o cérebro. “Nessa tese, lancei o conceito de homeostasia musical: a música como um equilíbrio natural do nosso cérebro. Em vez de tomarmos um medicamento, pode ser a música a cumprir esse papel, uma forma de psicoterapia”, afirma.
Com uma paixão pelo canto e ex-membro do Coro do Conservatório de Música de Santarém, que entretanto deixou por falta de tempo, o também neurocirurgião da CUF Descobertas e CUF Santarém, unidades de saúde parceiras do Montepio Associação Mutualista, reconhece que a música lhe traz equilíbrio emocional. “Ajuda no alívio da ansiedade e depressão que todos, vez em quando, sentimos. São momentos comuns a quase toda a gente.” A música, acrescenta, é também encontro, convívio, partilha. “Todos nós somos terapeutas uns dos outros.”
E pode, até, entrar no bloco operatório. “Tento sempre operar com música. O problema é que nem sempre a música de que gosto é a preferida dos outros. Uma das conclusões da minha tese é que a música mais eficaz no combate à dor é a que preferimos. No bloco, tem de haver consenso.”
Uma ária contra a dor
Pode a música reduzir a dor física? Foi esta pergunta que levou o neurocirurgião Carlos Calado a desenvolver uma pesquisa que viria a transformar-se numa bem-sucedida tese de doutoramento sobre a música como terapia. “Como médico, lido muitas vezes com a dor. Na cirurgia da coluna, o sintoma principal é precisamente esse. A dor pós-operatória causa muitos problemas. Ficamos frustrados quando, depois da cirurgia, os pacientes continuam a queixar-se”, admite o especialista.
Para o estudo, o neurocirurgião formou três grupos de 60 pacientes submetidos a cirurgias à coluna. Por sorteio, um grupo ouviu músicas da sua preferência, outro foi exposto a músicas relaxantes e um terceiro não teve acesso a música. A audição foi feita por auscultadores durante 48 horas de recuperação.
A dor, lembra o médico, é impossível de medir com exatidão. Ainda assim, recorreu-se a uma escala numérica de 0 a 10 (0 sem dor, 10 dor máxima), ao consumo de medicamentos e a indicadores fisiológicos como frequência cardíaca e tensão arterial.
Os resultados surpreenderam. Na dor autoavaliada, não houve efeito claro. Mas na frequência cardíaca, sim: os pacientes que ouviram música registaram valores mais baixos. E, no consumo de analgésicos, também houve diferenças: os doentes que ouviram música da sua preferência precisaram, em média, de menos duas doses nas primeiras 48 horas – 8 em vez de 10. “É um resultado estatisticamente significativo”, garante Carlos Calado.
Outra das curiosidades é que os pacientes do meio urbano revelaram resultados muito positivos com a música relaxante: houve uma baixa da frequência cardíaca e também da dor autoavaliada. Nos pacientes do meio rural, por outro lado, a música da sua preferência foi a que obteve melhores resultados.
Meios insuficientes, estudo na gaveta
Passaram quase oito anos desde que Carlos Calado defendeu a sua tese de doutoramento em Psicologia, na Universidade Autónoma de Lisboa. No entanto, pouco se fez para implementar as conclusões nos serviços de saúde. “Há muito pouca disponibilidade para isso. Médicos, enfermeiros, psicólogos e auxiliares estão sobrecarregados. Não exploramos o potencial da música.”
Para o futuro, o neurocirurgião sugere caminhos: talvez a musicoterapia possa ser integrada por psicólogos, terapeutas ocupacionais ou até enfermeiros, que “estão mais despertos para as terapêuticas não-medicamentosas”. Fica a nota: a música pode não curar, mas pode aliviar. E isso já não é pouco.